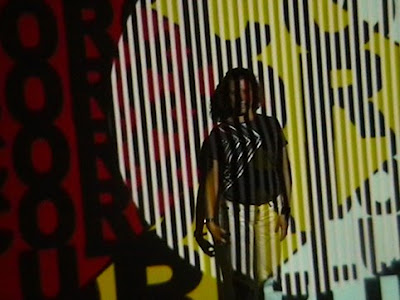
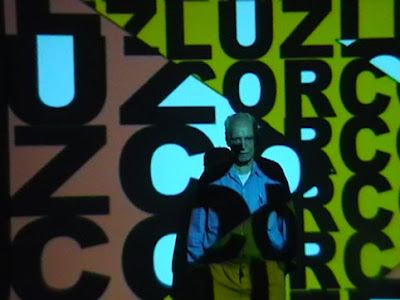
Termina neste fim de semana (Oi Futuro – Rio) a exposição “Contrapoemas e Anfipoemas” de Regina Pouchain e Wlademir Dias-Pino. São três mil Contrapoemas e dois mil Anfipoemas, estes associados a duas mil frases com os termos luz e cor.
Apesar da abundância de poemas, atrevo-me a pensar num único poema exposto (ou quando muito dois – o anfipoema e o contrapoema), que se desdobra ao infinito a partir de um processo de compressão e descompressão da forma.
O trabalho nos coloca diante da mais alta expressão da unidade numa infinitude de variáveis. Mas uma totalidade e unidade que, ao contrário das diretrizes modernistas, fogem ao vocabulário do poder. Ou seja, foge a idéia de colocar tudo num sistema totalizante (o que, aliás, define a sempre reverenciada obra de Mallarmé). É, ao contrário, um trabalho de textura, fragmentário, vertiginoso que nos impõe explorar a superfície, numa ação topográfica, muito mais do que uma visão estrutural.
Confiram!
01
Nov 08
Contrapoemas e Anfipoemas
17
Oct 08
Machado de Assis e a questão do Livro

A imagem de Machado de Assis esteve, no mês de setembro, nas capas de algumas das principais revistas do país e, em posição tão destacada nas bancas quanto as meninas da hora.
No Brasil passamos, impreterivelmente, nas escolas por alguns dos seus livros. O que faz o escritor merecer a mesma popularidade de nossas voluptuosas meninas. Machado de Assis problematizou como poucos a escrita e o livro.
O romance Memórias póstumas de Brás Cubas (1881) de Machado de Assis, retrata o ambiente de ócio e sadismo que prevalece junto a elite escravocrata do século XIX. Filho desta elite Brás Cubas é uma espécie de flaneur recriminado por levar vida mundana, não se casar e não se fazer político como quer o pai. A mentira dos valores sociais vigentes é revelada pelo próprio pai; “Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens”.
Machado de Assis chama a todo tempo o leitor à materialidade da inscrição despertando-o de sua relação intensa com a trama. Põe em questão o livro como totalidade, do mesmo modo em que o revela como dispositivo. O autor conjuga, na construção do texto, elementos verbais e visuais e, interrompe freqüentemente o fluxo do texto para interpelar o leitor e convocá-lo a observar as questões do livro em processo. A partir de acidentes gráficos e apartes interrompe-se o desenrolar sucessivo de sentido revelando-se a opacidade da superfície do texto e as estratégias e dúvidas na concepção do livro. No capítulo XLIX, Machado parece ironizar diretamente os ideais de transparência do dispositivo:
“Nariz, consciência sem remorsos (…) Sabe o leitor que o faquir gasta longas horas a olhar para a ponta do nariz, com o fim único de ver a luz celeste. Quando ele finca os olhos na ponta do nariz, perde o sentimento das cousas externas, embeleza-se no invisível, apreende o impalpável, desvincula-se da terra, dissolve-se, eteriza-se. ”
Machado impõe ao leitor a consciência de que tem em mãos um livro. Ele desconstrói o caráter ao mesmo tempo reflexo e cristalino conquistado pela tipografia clássica nos quais as alternâncias de contraste entre o preto e o branco matizam e engolfam o leitor pelas luminescências e o colocam num espaço virtual quase metafísico, em estado de suspensão. O escritor abandona preceitos que sustentam a fluidez da leitura e rompe com as regras clássicas da arte de escrever que se apresentavam puramente a serviço do conteúdo.
Por outro lado, suas interrupções na narrativa se apresentam como estratégia para manter o texto vinculado a idealidade do significado, ou seja, quer o autor que a comunicação escrita, fixada em um suporte material, não fuja ao seu controle. Atua, para tanto, com eventuais “explicações” e se previne inclusive das incompreensões do crítico, como é o caso do capítulo CXXXVIII intitulado A um crítico. Sob esta ótica pode-se dizer que Machado de Assis compactua com as preocupações expostas por Platão em Fedro no qual tece críticas à escrita por seu caráter de perenidade e de exterioridade. O melhor, afirmara Platão, seria ensinar e aprender oralmente, através do diálogo, podendo o mestre escolher o seu discípulo e estar presente com condições de controlar e esclarecer os seus discursos e promover a verdade nas almas. Machado, no entanto, vem exercer a vigília sobre o significado do exposto, compondo o diálogo não pela oralidade, mas pela descrição da leitura e pela materialidade do traço.
Os cortes na seqüência, põem em causa o lugar do capítulo no todo. Haroldo de Campos afirmou, num jogo de palavras, que o principal personagem de Dom Casmurro não é a Capitu é o Capítulo (1992:224). Desta questão Abel Baptista (1998) lança ampla investigação sobre como Machado de Assis coloca em questão, de modo recorrente, a noção de totalidade intrínseca ao livro. Em Machado o livro ganha caráter de prosa capitular. Memórias Póstumas tem cento e sessenta capítulos em cerca de duzentas páginas. O capítulo protagonista em Machado coloca a tensão entre os capítulos isolados e o todo, pondo em causa a idéia de linearidade, o que, segundo, Baptista, não sublinha propriamente o fragmentário, pois a idéia de totalidade permanece presente, mas sublinha a interrupção. Com freqüência Machado assiná-la a possibilidade de suprimir um capítulo, retoma outro diante da possibilidade do leitor tê-lo pulado, enfim por suspensões e interrupções destina ao leitor as possibilidades de compor o livro, mas sob a articulação e argumentação do autor.
17
Oct 08
Mundo da Imagem?
É recorrente a afirmação de que vivemos hoje no mundo da imagem. O que nos habituamos a chamar de imagens são na verdade clichês. São elementos que não existem para serem postos em questão. Visam o alcance do tipo, de respostas imediatas ou absorção subliminar.
29
Sep 08
Brasília utópica
Rogério Camara, Brasília, setembro de 2008
Encontra-se na praça central do Conjunto Cultural da República em Brasília o texto “Utopia da Modernidade” Este em letras moldadas em madeira com tamanho e inclinação que permite confortável leitura a partir de um carro que deslize sob o eixo monumental ou, quem sabe, de um avião cuja sombra cobre com precisão a cidade.
Sempre se falou de Brasília como uma cidade utópica, utópica por se pensar construir o presente com cabeça num futuro ideal. Um mundo pensado, imaginado ainda sem um dado de vivência. Com lucidez Clarice Lispector traduziu a cidade no ano de sua inauguração em 1960: “Brasília é construída na linha do horizonte. Brasília é artificial. Tão artificial como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso criar um homem especialmente para aquele mundo. Nós somos todos deformados pela adaptação à liberdade de Deus. Não sabemos como seríamos se tivéssemos sido criados em primeiro lugar e depois o mundo deformado às nossas necessidades. Brasília ainda não tem o homem de Brasília.(…) Os dois arquitetos não pensaram em construir beleza, seria fácil: eles ergueram o espanto inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério.”
Lucio Costa comenta que a idéia “surgiu quase que pronta” de um risco simples em movimento cruzado que marca um local e quer fazer dele um lugar: “Nasceu de um gesto primário de quem funda um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz”.
A absoluta simplificação: o sinal da cruz, o símbolo absoluto. O eixo vertical e horizontal, que simbolicamente expressam o eixo do poder e o da vida.
Conquista-se neste gesto a simplificação dos fluxos com apenas um único entroncamento. Uma cidade geométrica, que elimina as ruas e as calçadas. Privilegia-se o carro, que se movimenta sob leis e traçados rigorosos, esquivando-se dos movimentos adversos e imprevisíveis dos pedestres.Uma cidade apreensível pelo todo, sem barreiras. São poucos os dados a processar, não é preciso muita memória. Funcional – deslocamentos regulares: trabalho, casa, laser.
Brasília é uma imagem, um símbolo, um logotipo. Foi pousada num planalto, longe de qualquer civilização. Totalmente arejada, sem nenhum vestígio de outra cidade, nenhuma montanha, nenhuma mancha à volta. Empoleirada “na linha horizonte” envolvida somente pelo céu – uma cidade totalmente espiritual. O nada e todas as cores.
Elimina a presença de linhas verticais, nivelando a prumada dos prédios. A vastidão sem referência de profundidade, pode-se bater no céu ou nunca alcançá-lo. Salientes, apenas os prédios públicos, inscritos no espaço como caligramas por Oscar Niemeyer.
Lucio Costa arqueia o eixo horizontal, o das residências e dos serviços, “a fim de contê-lo no triângulo que define a área urbanizada”.Os arquitetos arquitetam e exercem sobre o papel. Idealizam uma constelação perfeita, com os movimentos deduzidos à lei. Cada unidade em sua órbita dimensionada em toda extensão de suas funções. Como em Um Lance de Dados de Mallarmé, as áreas arejadas, os brancos que, segundo ele, “assumem importância, (…) a versificação os exigiu, como silêncio em derredor (…) não transgrido essa medida, tão-somente a disperso”. Todas as unidades prismam-se “nalguma cenografia espiritual exata”. Entretanto, a intenção dos arquitetos de positivação, de definitividade dos espaços da cidade diferencia-se do poema de Mallarmé. Um Lance de dados não se fecha numa logotipia. O mundo verbal é naturalmente ambíguo, plural, fenomenológico e, além disso, o poema de Mallarmé é uma forma aberta que contém uma pluralidade de leituras.Ele foi concebido estereograficamente, onde figuras radiantes podem ser vistas como orifícios rompendo o limite do espaço. Espaços de reversibilidades, interjeições, negações, a ausência da idéia. No projeto de Brasília traça-se o ideal, em planta baixa, de uma cidade sem vão, sem ocos, sem buracos. Todo espaço deve estar destinado, funcionalizado, sem usos estranhos. Os arquitetos imaginavam que pudessem retirar do mundo, da cidade, das pessoas tudo aquilo que fosse inominável, imperfeito – feio. Se possível fosse, chegar-se-ia assim ao ‘não lugar’ com todas as distinções e nenhuma distinção entre a cidade e uma sala de aeroporto. Se possível fosse, pois o ‘ideal Brasília’ inevitavelmente esbarra na polifonia da existência. Nem o poeta, nem o arquiteto têm a palavra final. Ao projeto se designa a ordem, ao uso o caos.
29
Sep 08
De volta ao Maraca
Este fim de semana retornei ao Maracanã depois de mais de 25 anos para assistir a vitória do Flamengo sobre o Sport Recife. Situação em que fui tomado por sentimento nostálgico, pois fui assíduo freqüentador do estádio em minha adolescência, prática que a preguiça e a mudança de interesses me fizeram abandonar. Neste período o estádio foi reformado, em tentativa de adequá-lo às normas de segurança (João Havelange teria sugerido que o implodisse). O estádio, que foi construído para receber 150 mil pessoas, reduziu sua capacidade para 80. A arquibancada foi subdividida em setores e ganhou cadeiras cujas cores permitem a identificação das áreas com preços variáveis e, a geral foi eliminada. Quando não havia cadeiras sentava-se em degraus de cimento e, a concentração de pessoas começava em frente ao meio do campo e ia se espalhando para as laterais até chegar no fundo do gol. Era um espaço liso, com áreas definidas pelas torcidas e suas diversas facções. No caso de brigas entre as torcidas, algo que era freqüente, abria-se rapidamente um grande vão graças a.facilidade de deslocamento, o que, obviamente, favorecia tanto a fuga como o conflito.
A nova configuração estanca o movimento e o ímpeto das pessoas. Mas não foi só isso que deixou o povo mais manso. O futebol é hoje um espetáculo televisivo. Os jogadores comemoram o gol correndo em direção à câmera e não à sua torcida. Do mesmo modo os torcedores se comunicam com a telinha e temem serem flagrados. Isso levou aos jogos no Maracanã mais mulheres e famílias.
Por sua vez, a organização do estádio não poderia deixar de faturar com a necessidade das pessoas de tornar publica a sua intimidade. No telão do estádio são veiculadas diversas mensagens de amor envidas pelos celulares presentes, assim como autofotos no local. Não se fala sobre futebol, isso só em mensagens ao Galvão Bueno.
Do lado de fora a bagunça de sempre, mas o metrô facilita muito a chegada ao estádio. O melhor de tudo são os camelôs. É verdade que eles ocupam as calçadas privatizando o espaço público e pereré pão duro, mas eles têm sempre a mão o necessário à ocasião. A coisa certa, na hora certa, não importa como o Universo conspira. Desprevenido que eu estava da chuva pude comprar por cinco reais uma capa embalada num pacote menor que uma carteira.

